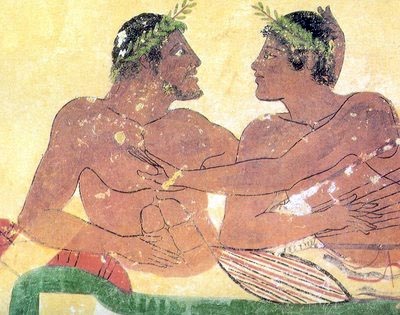1) Comentários e citações (Alguma Poesia & Brejo das Almas)– 05.01.10
“Se meu verso não deu certo, foi seu ouvido que entortou”.
(“Explicação”, em Alguma Poesia)
No início dos anos 90 resolvi ler a obra poética inteira de Drummond e encarei a empreitada que é o volume da Aguilar (embora a minha edição fosse de 1979 e muita água tenha passado pela ponte depois). Antes, havia lido um ou outro livro isoladamente, a Antologia Poética inteira e, é claro, poemas de forma esparsa.
Agora a Bestbolso fez uma Nova Reunião , com 23 livros do genial poeta mineiro, em três volumes, e decidi novamente fazer uma leitura disciplinada e empenhada da obra poética drummondiana, quase vinte anos depois da primeira vez. Se saúde e vida houver, espero chegar ao fim das férias de janeiro com seus poemas na ponta da língua, pelo menos os do primeiro volume. Até agora já li quatro: Alguma poesia, sua estréia em 1930 (ele nasceu em 1904 e morreu em 1987); Brejo das almas ( 1934); Sentimento do mundo (1940) e José (1942; essa primeira edição incorporava as coletâneas anteriores).
Dos quatro, o meu favorito é ainda Alguma poesia. Mesmo decorridos 80 anos, é possível imaginar o impacto que essa coletânea ocasionou, até pelo seu título pra lá de irônico, meio provocação, meio coisa hipotética (desse material todo alguém poderá retirar ou reter “alguma” poesia, algo ínfimo, muito menor do que a Poesia praticada na época, ou o que era considerado Poesia). Dos 50 poemas que compõem o livro, pelo menos doze são absolutamente paradigmáticos, referências absolutas do nosso modernismo e da nossa mais alta lírica, tão famosos que todo mundo conhece, sem às vezes saber a que livro pertencem: o inaugural, em todos os sentidos, “Poema de sete faces” (“Mundo mundo vasto mundo,/ se eu me chamasse Raimundo/ seria uma rima, não uma solução…”); “Infância” (que termina comos célebres e belos versos seguintes: “E eu não sabia que minha história/era mais bonita que a de Robinson Crusoé”); “Construção” , um daqueles poemas curtos, relampejantes, meio jocosos, que marcaram o nosso Modernismo, assim como “Política literária”, “Quadrilha”, “anedota búlgara” e “Cota zero”; “Sentimental”; “Coração numeroso” (com o famoso “Meus paralíticos sonhos desgosto de viver”, mas também a presença do Rio, em contraponto ao atavismo itabirano”: “O mar batia em meu peito, já não batia no cais./ A rua acabou, quede as árvores? a cidade sou eu/ a cidade sou eu/ sou eu a cidade/ meu amor”); “Poesia” (quem não conhece estes versos: “Gastei uma hora pensando um verso/que a pena não quer escrever./No entanto ele está cá dentro/ inquieto, vivo./Ele está cá dentro/e não quer sair./Mas a poesia deste momento/inunda minha vida inteira”?); e, por fim, dois poemas absolutamente essenciais, básicos, cada um a seu modo: “No meio do caminho” e “Cidadezinha qualquer” (“Eta vida besta, meu Deus”).
Temos, também, “Cabaré Mineiro”, com a dançarina espanhola de Montes Claros, “…linda,linda, gorda e satisfeita./ Como rebola as nádegas amarelas!/ Cem olhos brasileiros estão seguindo/ o balanço doce e mole de suas tetas…” E a “Balada do amor através das Idades” (que lembra Bandeira), onde após passarmos por Grécia, Tróia, Roma, Cristandade, a corte de Versailles, a Revolução: “Hoje sou moço moderno,/ remo, pulo, danço, boxo,/tenho dinheiro no banco./ Você é uma loura notável, / boxa, dança, pula, rema./ Seu pai é que não faz gosto./Mas depois de mil peripécias,/ eu, herói da Paramount,/te abraço, beijo e casamos.” Temos a “Lanterna Mágica” do poeta, passando de forma irregular (em termos de resultado poético e envolvimento do leitor) por Belo Horizonte, Sabará, Caeté, Itabira, São João Del-Rei, Rio de Janeiro [“Meus amigos todos estão satisfeitos/com a vida dos outros (…)/ Mas tantos assassinatos, meu Deus./ E tantos adultérios também./ E tantos tantíssimos contos do vigário…./(Este povo quer me passar a perna.) // Meu coração vai molemente dentro do táxi”], terminando,impagavelmente, na Bahia (“É prexiso fazer um poema sobre a Bahia…// Mas eu nunca fui lá”).
Temos o eu lírico, no maravilhoso “Sweet home”, refestelado “nesta poltrona de humorista inglês”, enquanto “O jornal conta histórias, mentiras…/Ora afinal a vida é um bruto romance/ e nós vivemos folhetins sem o saber”.
´”Também já fui brasileiro” mereceria ser tão famoso como aqueles doze que citei e é um dos pontos altos de Alguma poesia, mantendo aquela toada da afinidade da lírica de Drummond com a de Manuel Bandeira, apesar das muitas diferenças: “Eu também já tive meu ritmo./ Fazia isto, dizia aquilo./ E meus amigos me queriam,/ meus inimigos me odiavam./ Eu irônico deslizava/ satisfeito de ter meu ritmo./ Mas acabei confundindo tudo./ Hoje não deslizo mais não,/ não sou irônico mais não,/ não tenho ritmo mais não”.
Discretamente, o proletariado e o socialismo, inclusive com a experiência soviética ainda muito atraente para os intelectuais da época já deixam seu rastro (depois seriam mais fortes e explícitos na poesia drummondiana). Em “Europa, França e Bahia”, com seus “olhos brasileiros sonhando exotismos”, o poeta enjoa da Europa: “Mas a Rússia tem as cores da vida./ A Rússia é vermelha e branca./ Sujeitos com um brilho esquisito nos olhos criam o filme/ bolchevista e no túmulo de Lenin em Moscou parece que um /coração enorme está batendo, batendo/ mas não bate igual ao da gente…”
E a mistura Itabira-Rio-paralíticos sonhos-desgosto de viver-vida besta-gauche na vida-vasto mundo é bem sintetizada no delicioso “Casamento do Céu e do Inferno”:
No azul do céu de metileno
a lua irônica
diurética
é uma gravura de sala de jantar.
Anjos da guarda em expedição noturna
velam sonos púberes
espantando mosquitos
de cortinados e grinaldas.
Pela escada em espiral
diz-que tem virgens tresmalhadas (…)
Por uma frincha
o diabo espreita com o olho torto (…)
São Pedro dorme
e o relógiodo céu ronca mecânico.
Diabo espreita por uma frincha.
Lá embaixo
suspiram as bocas machucadas.
Suspiram rezas? Suspiram manso,
de amor (…)
Que a vontade de Deus se cumpra!
Tirante Laura e talvez Beatriz,
o resto vai para o inferno.”
Brejo das Almas (o título vem do nome de um lugarejo, e foi um achado genial) não tem o impacto de Alguma Poesia, claro, é nem um número igual de poemas paradigmáticos, daqueles que todo mundo conhece um verso, ou já ouviu falar, mas é um livro muito belo, e na minha opinião páreo até mesmo ao tão estimado Sentimento do Mundo, que veio a seguir. Os seus poemas mais célebres são estes seis: “Soneto da perdida esperança” (“Perdi o bonde e a esperança./ Volto pálido para casa./ A rua é inútil e nenhum auto/ passaria sobre meu corpo“, terminando com: “Entretanto há muito tempo/ nós gritamos sim! ao eterno“); “O amor bate na aorta” (“O amor bate na porta,/ o amor bate na aorta,/ fui abrir e me constipei“), que prolonga a molecagem modernista drummondiana, com sua modulação única: “Poema patético” (no qual todas as estrofes repetem o primeiro verso: “Que barulho é esse na escada?”; na duas últimas: “É a torneira pingando água,/ é o lamento imperceptível / de alguém que perdeu no jogo/ enquanto a banda de música/ vai baixando, baixando de tom (…)// É a virgem com um trombone,/ a criança com um tambor,/ o bispo com uma campainha/ e alguém abafando o rumor/ que salta de meu coração“), “Em face dos últimos acontecimentos” [cujo título é bem menos famoso que os versos: “Oh! sejamos pornográficos/ (docemente pornográficos)./ Por que seremos mais castos/ que o nosso avô português“]; “Segredo” (“A poesia é incomunicável/ Fique torto no seu canto“) e o meu favorito total, “Necrológio dos desiludidos de amor”…
2) Comentários e citações (Brejo das Almas & Sentimento do Mundo)– 06.01.10:
“Tudo é possível, só eu impossível” (de “Segredo”, Brejo das Almas)
Comecei ontem anotações e citações da minha leitura de férias de Nova Reunião- 23 livros de Poesia, e estava comentando os poemas mais famosos de Brejo das Almas. Como já afirmei, deles todos o meu favorito, não por ser o melhor, mas pelo espírito moleque, entranhadamente modernista, jocoso e pândego, é “Necrológio dos desiludidos do amor”:
“Os desiludidos do amor
estão desfechando tiros no peito.
Do meu quarto ouço a fuzilaria.
As amadas torcem-se de gozo.
Oh, quanta matéria para os jornais.
Desiludidos mas fotografados,
escreveram cartas explicativas,
tomaram todas as providências
para o remorso das amadas.
Pum pum pum adeus, enjoada.
Eu vou, tu ficas, mas nos veremos
seja no claro céu ou turvo inferno.
Os médicos estão fazendo a autópsia
dos desiludidos que se mataram.
Que grandes corações eles possuíam.
Vísceras imensas, tripas sentimentais
e um estômago cheio de poesia…
Agora vamos para o cemitério
levar os corpos dos desiludidos
encaixotados competentemente (…)
Única fortuna, os seus dentes de ouro
não servirão de lastro financeiro
e cobertos de terra perderão o brilho
enquanto as amadas dançarão um samba
bravo, violento, sobre a tumba deles.”
Esse lado brejeiro fica bastante atenuado, embora persista, no “sério”, no ambicioso Sentimento do mundo (1940), que é considerado um dos pontos de inflexão da obra drummondiana, com a temática mais próxima do social, do politizado, com seu namoro (enjoado, creio eu) com o socialismo. O livro tem pontos altos, é claro, mas no conjunto perde para os dois anteriores, em qualidade, coesão e força. São mais poemas fortes do que um livro forte, a despeito do apelo irresistível do título, que ficou quase proverbial para definir um certo Drummon, aquele mais participante, dentro da sua reserva. Só que eu acho que há uma tendência, nessa fase,e que também atrapalha A rosa do povo, de ser discursivo. Malgrado haja, num dos poemas do livro de 1945 (A rosa do povo) , um verso brilhante, “que tristes as ooisas quando consideradas sem ênfase” ou algo muito próximo disso, há muita ênfase nos dois livos, o que às vezes, a meu ver, enfraquece alguns poemas que o tempo tornou melodramáticos e até discutíveis do ponto de vista propriamente poético, nao importa o humanismo exalado por eles .
No conjunto de quase 30 poemas de Sentimento do Mundo há dez muito famosos, paradigmáticos, começando, é claro, de cara com o poema-título (“Tenho apenas duas mãos/ e o sentimento do mundo”… “Os camaradas não disseram/ que havia uma guerra/ e era necessário/ trazer fogo e alimento”… “esse amanhecer/ mais noite que a noite”); mas, para mim, talvez fosse mais impactante começar com o melhor poema do livro, que é o segundo, uma das obras-primas do autor:
“Confidência de Itabirano”:
“Alguns anos vivi em Itabira.
Principalmene nasci em Itabira.
Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro.
Noventa por cento de ferro nas calçadas.
Oitenta por cento de ferro nas almas.
E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação (…)
E o hábito de sofrer, que tanto me diverte,
é doce herança itabirana (…)
Tive ouro, tive gado, tive fazendas.
Hoje sou funcionário público.
Itabira é apenas uma fotografia na parede.
Mas como dói!”
O terceiro poema muito célebre é “Poema da necessidade”, que tem aquele formato repetitivo, usado tão amiúde e tão bem pelo mestre itabirano (“É preciso casar João,/ é preciso suportar Antônio,/ é preciso odiar Melquíades,/ é preciso substituir nós todos…”); o quarto é “Congresso Internacional do Medo” (que antecipa “O medo”, poema de A rosa do povo, o qual abre com uma citação de Antônio Cândido, para que o leitor de hoje veja como já era o prestígio em 1945 do nosso maior crítico literário, então ainda muito jovem), o qual se encerra deste modo: “depois morreremos de medo/ e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas”; tem “Os mortos de sobrecasaca” (“Um verme principiou a roer as sobrecasacas indiferente/ e roeu as páginas, as dedicatórias e mesmo a poeira dos retratos./ Só não roeu o imortal soluço de vida que rebentava/ que rebentava daquelas páginas”), que revela uma certa filiação machadiana de drummond, ainda que de forma muito menos deletéria e corrosiva; famoso também é “Os ombros suportam o mundo” ( (“Chega um tempo em que não se diz mais: meu Deus./ Tempo de absoluta depuração”…”Chegou um tempo em que não adianta morrer./ Chegou um tempo em que a vida é uma ordem./ A vida apenas, sem mistificação”, outro belíssimo fecho); tem “Mãos dadas” com o famoso “Não serei o poeta de um mundo caduco” e o igualmente famoso “O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,/ a vida presente”; tem “A noite dissolve os homens”, que começa com desesperança e termina com um toque fraternal: “Aurora,/ entretanto eu te diviso, ainda tímida/ inexperiente das luzes que vais acender/ e dos bens que repartirás com todos os homens./ Sob o únido véu de raivas, queixas e humilhações,/ adivinha-se que sobes, vapor róseo, expulsando a treva noturna./ O triste mundo fascista se decompõe ao contato de seus dedos,/ teus dedos frios, que ainda se não modelaram,/ mas que avançam na escuridão como um sinal verde e peremptório”; e, por fim, nessa linha, “Elegia 1938” (“Trabalhas sem alegria para um mundo caduco…”). Porém, depois de “Confidência de Itabirano”, o poema clássico de que mais gosto no livro é “Dentaduras duplas”:
“(…) Resovin! Hecolite!
Nomes de pessoas?
Fantasmas femininos?
Nunca: dentaduras,
engenhos modernos,
práticos, higiênicos,
a vida habitável,
a boca mordendo,
os delirantes lábios
apenas entreabertos
num sorriso técnico,
e a língua especiosa
através dos dentes
buscando outra língua
afinal sossegada (…)
Dentaduras duplas:
dai-me enfim a calma
que Bilac não teve
para envelhecer.
Desfibrarei convosco
doces alimentos,
serei casto, sóbrio,
não vos aplicando
na deleitação convulsa
de uma carne triste
em que tantas vezes
me eu perdi…”
Esssa é uma das facetas mais genais de Drummond, essa mordacidade, esse pequeno toque de patético teatral, com esses versos que “às vezes tem o ar sem-vergonha de quem vai dar uma cambalhota” (lemos em “Explicação”, de Alguma Poesia. Como nos versos de “Noturno à janela do apartamento”, outro poema de Sentimento do Mundo, ainda que não tão famoso como os já referidos: “A soma da vida é nula./ Mas a vida tem tal poder:/ na escuridão absoluta,/ como líquido, circula”.

3) Comentários e citações (José)– O7-01-10
“Aprendo a cada sopro de vento que a vida vale o que dela não se cumpre”;
“Não sou trágica, prefiro rir do absurdo e renovar a existência como nolens volens noles volens noles volens. Não querer querer” (Marcia Tiburi, Magnólia)
Continuando as anotações sobre minha leitura de NOVA REUNIÃO- 23 livros de poemas, chego agora a um título, José, que não foi publicado originalmente de forma independente. Marcou a prmeira publicação de Drummond na José Olympio, a editora que congregava os medalhões da nossa literatura à época, em 1942, e como a ele foram agregados os anteriores, abaixo comentados (Alguma Poesia, Brejo das Almas, Sentimento do Mundo) tinha-se a sensação de uma espécie de “Obra Completa”. Foi o primeiro dos muitos rearranjos e reuniões feitas pelo próprio autor dos seus livros. E, num sentido muito objetivo (o do mercado) essa edição da José Olympio pode ser considerada quase que o primeiro livro de Drummond para o público, já que as edições das coletâneas anteriores foram pagas pelo próprio autor e com um número irrisório de exemplares: até que 500 era um número expressivo para uma edição auto-financiada, como a do livro de estreia, Alguma Poesia (será que o selo “Edições Pindorama” lanço mais alguma coisa?), em 1930; já a cooperativa “Os amigos do livro” só custeou 200 exemplares de Brejo das almas, em 1932; e pela Pongetti, foram 150 os exemplares de Sentimento do Mundo, em 1940. Então, além do prestígio e do rumor causado por “No meio do caminho”, quantos leitores brasileiros conheciam Drummond quando foi lançado o volume José ?
Sob essa perspectiva, poder-se-ia considerar que José como obra em si se enfraquece um pouco, já que parece apenas um apêndice (são poucos os poemas desse conjunto, apenas doze) a livros mais ambiciosos, “tempos fortes”. Ledo engano, esse título se demonstra o “tempo forte” de Drummond pós-Alguma Poesia (e até esse passo na sua vida e carreira), mostrando-se depurado, coeso e muito denso, superior –a meu ver, é claro– ao anterior, Sentimento do Mundo, que é demasiado irregular, e fornecendo uma síntese poderosa da poética drummondiana de então. Tomo como evidência dessa minha afirmação o número de poemas, nesse conjunto tão pequeno, que se tornaram paradigmáticos: nada menos que quatro. E que poemas! A começar pelo poema-título, um dos mais célebres e citados, a ponto de ter se transformado numa expressão proverbial de impasse, “E agora, José?”:
“(…) Se você gritasse,
se você gemesse,
se você tocasse
a valsa vienense,
se você dormisse,
se você cansasse,
se você morresse..
Mas você não morre,
você é duro, José!”
Tem o pateticamente lindo “A Bruxa”,onde o itabirano em quem foi inoculado o “alheamento do que na vida é porosidade e comunicação” nos diz de forma tão comovente:
“Nessa cidade do Rio,
de dois mihões de habitantes,
estou sozinho no quarto
estou sozinho na América (…)
De dois milhões de habitantes!
E nem precisava tanto…
Precisava de um amigo,
desses calados, distantes,
que leem verso de Horácio
mas secretamente influem
na vida, no amor, na carne (…)
E nem precisava tanto.
Precisava de mulher
que entrasse nesse minuto,
recebesse esse carinho,
salvasse do aniquilamento
um minuto e um carinho loucos
que tenho para oferecer (…)
Companheiros, escutai-me!
Essa presença agitada
querendo romper a noite
não é simplesmente a bruxa.
É antes a confidência
exalando-se de um homem.”
Esse é um dos grandes momentos de Drummond. Quando li Sobre heróis e tumbas, de Ernesto Sabato, pensei muito nesses versos ao me deparar com a solidão, a bruxa visceral rondando e assombrando macbethianamente os dois “heróis” do livro, o maduro Bruno e o jovem Martín numa Buenos Aires de milhões de habitantes.
Tem o magistral “O lutador”, o qual já se inicia com versos que todo mundo conhece:
“Lutar com palavras
é a luta mais vã.
Entanto lutamos
mal rompe a manhã.
São muitas, eu pouco.
Algumas, tão fortes
como o javali.
Não me julgo louco.
Se o fosse, teria
poder de encantá-las.
Mas lúcido e frio,
apareço e tento
apanhar algumas
para meu sustento
num dia de vida…”
E, para fecha a citação dos paradigmáticos (no sentido, de conhecidos e super-citados, até quando não se sabe o poema ao qual os versos pertencem) , “A mão suja” (não é à toa que me referi a Macbeth, mais atrás; curiosamente, poucos anos depois Sartre escreveria uma peça admirável chamada As mãos sujas, talvez sua maior realização no teatro):
“Minha mão está suja.
Preciso cortá-la.
Não adianta lavar.
A água está podre.
Nem ensaboar.
O sabão é ruim.
A mão está suja,
suja há muitos anos (…)
E era um sujo vil,
não sujo de terra,
sujo de carvão,
casca de ferida,
suor na camisa
de quem trabalhou.
Era um triste sujo
feito de donça
e de mortal desgosto
na pele enfarada.
Não era sujo preto
–o preto tão puro
numa coisa branca.
Era sujo pardo
pardo, tardo, cardo.
Inútil reter
a ignóbil mão suja
posta sobre a mesa.
Depressa. cortá-la,
fazê-la em pedaços
e jogá-la ao mar!
Com o tempo, a esperança
e seus maquinismos,
outra mão virá
para –transparente–
colar-se a meu braço.”
Aqui a questão não é tanto o remorso que atormentava Lady Macbeth,mas uma variedade burguesa, de gente pacífica, que é simplesmente o “remordimento do imo-senso” ou a má-consciência que Sartre denunciou como a má fé do indivíduo burguês consigo mesmo, a inautenticidade. Afora isso, como em outros exemplos que apareceram aqui, nunca é demais falar da maestria ritmica de Drummond no uso das redondilhas maiores e menores. Parece fácil, porém…
No mais, temos o “Edifício Esplendor”, que forneceu a epígrafe para Seminário dos Ratos, de Lygia Fagundes Telles (“Que século, meu Deus! Diziam os ratos,/E começavam a roer o edifício”), tem um momento que poderia ser uma fala de Riobaldo, em “Tristeza no Céu” (“…o momento entre tudo e nada,/ ou seja, a tristeza de Deus”), temos a “Rua do Olhar” (“Que funda esperança/ perfura o desgosto,/ abre um longo túnel/ e sorri na boca”).
Temos o extraordinário “Viagem na Família”, um dos pontos altos de José:
“(…) No deserto de Itabira
as coisas voltam a existir,
irrespiráveis e súbitas.
O mercado dos desejos
expõe seus tristes tesouros:
meu anseio de fugir,
mulheres nuas, remorsos…”
E por fim, esse belo e longo verso (pois Drummond não está só para redondilhas) livre de “Os rostos imóveis”: “Contemplo minha vida fugindo a passo de lobo, quero detê-la, serei mordido?”
4) A rosa do povo (1945) é um tour-de-force, poderosa reunião de 55 poemas, um livro um tanto irregular, com muitos poemas extraordinários e alguns bem discutíveis, além daquele “excesso de ênfase” e do toque melodramático que torna irregulares até poemas com trechos lindos. Mas havia um contexto muito forte (o Estado Novo, a Segunda Grande Guerra), havia o enlace passageiro de Drummond com o comunismo (e seu enlace permanente com o socialismo) e a poesia “proletária”. E ao mesmo tempo há a constelação itabirana, a presença poderosa da família, do atavismo mineiro. Atavismo e ativismo, duas faces de uma lírica que está em um dos seus momentos mais retorcidos, mais dilacerados. Percebe-se o diagnóstico do “mundo caduco”, mas também um lirismo voltado para a nostalgia, mesmo para aquilo que é “alheamento do que na vida é porosidade e comunicação”, que ficam evidente nos belíssimos poemas sobre o pai.
O título, que dá um tom muito mais “participante”, no sentido político, do que o conjunto da coletânea sugere no seu impacto total, se justifica no poema “Mário de Andrade desce aos infernos”, um dos dezesseis textos paradigmáticos (é o penúltimo) do livro, escrito sob o impacto da morte de um homem que Drummond considerava seu mentor, um mestre de gerações:
“O meu amigo era tão
de tal modo extraordinário,
cabia numa só carta,
esperava-me na esquina,
e já um poste depois
ia descendo o Amazonas (…)
e para além dos brasis,
nas regiões inventadas,
países a que aspiramos,
fantásticos,
mas certos, inelutáveis,
terra de João invencível,
a rosa do povo aberta…
A rosa do povo despetala-se,
ou ainda conserva o pudor da alva?
É um anúncio, um chamado, uma esperança embora frágil, pranto infantil no berço?
Talvez apenas um ai de seresta, quem sabe.
Mas há um ouvido mais fino que escuta, um peito de artista que incha,
e uma rosa se abre, um segredo comunica-se, o poeta anunciou,
o poeta, nas trevas, anunciou…”
Se a divisão entre o lamento por Mário e o anúncio da Rosa penultimiza a coletânea, o ainda mais longo poema “Canto ao homem do povo Charles Chaplin”, já pelo seu título indica as intenções populizantes e humanistas da poética drummondiana. Alguns podem considerar piegas, e mesmo a idéia de Chaplin, “homem do povo”, um tanto sentimental demais, porém me parece que o Chaplin que emerge desses versos é o tal “homem de todos os homens”, de que falava Sartre em As palavras, mais do que um herói positivo e redentor:
“Ser tão sozinho em meio a tantos ombros,
andar aos mil num corpo só, franzino,
e ter braços enormes sobre as casas,
ter um pé em Guerrero e o outro no Texas,
falar assim a chinês, a maranhense,
a russo, a negro: ser um só, de todos,
sem palavra, sem filtro,
sem opala:
há uma cidade em ti, que não sabemos.”
Ou então:
“Colo teus pedaços. Unidade
estranha a tua, em mundo assim pulverizado.
E nós, que a cada passo nos cobrimos
e nos despimos e nos mascaramos,
mal retemos em ti o mesmo homem
aprendiz
bombeiro
caixeiro
doceiro
emigrante
forçado
maquinista
noivo
patinador
soldado
músico
peregrino
artista de circo
marquês
marinheiro
carregador de piano
apenas sempre entretanto tu mesmo,
o que não está de acordo e é meigo,
o incapaz de propriedade, o pé
errante, a estrada
fugindo, o amigo
que desejaríamos reter
na chuva, no espelho, na memória
e todavia perdemos.”
Se A rosa do povo termina dessa forma, “participante” (que aprofundam uma direção indicada por uma poema muito estranho, até mal resolvido, de Sentimento do Mundo, chamado “O operário no mar”, que exercita um certo messianismo em torno da figura do proletário: “Agora está caminhando no mar. Eu pensava que isso fosse privilégio de alguns santos e de navios. Mas não há nenhuma santidade no operário, e não vejo rodas nem hélices no seu corpo, aparentemente banal. Sinto que o mar se acovardou e deixou-o passar. Onde estão nossos exércitos que não impediram o milagre?”; o poema termina assim: “…quem sabe se um dia o compreenderei?”), o início aponta (ou simular apontar) noutra direção, com dois poemas metalíngüísticos excepcionais,e sempre muito citados, “Consideração do poema” e “Procura da poesia”.
No primeiro deles, o poeta começa afirmando: “Não rimarei a palavra sono/ com a incorrespondente palavra outono./ Rimarei com a palavra carne/ ou qualquer outra, que todas me convêm…”. Para terminar com um instigante: “… Tal como uma lâmina,/ o povo, meu poema, te atravessa.” E no meio um dos trechos mais bonitos de toda a obra drummondiana:
“Poeta do finito e da matéria,
cantor sem piedade, sim, sem frágeis lágrimas,
boca tão seca, mas ardor tão casto.”
E “Procura da Poesia” é sumamente irônico na sua auto-negação. Por que um poeta tomado pela “lição das coisas”, como Drummond, poderia afirmar de fato algo como:
“Não faças versos sobre acontecimentos.
Não há criação nem morte perante a poesia.
Diante dela, a vida é um sol estático,
não aquece nem ilumina (…)
Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro
são indiferentes.”
E, no entanto, é tudo verdade. É isso, há essa farpa de gelo no coração da poesia, há mesmo esse sol de indiferença porque ela incorpora a gota de bile, a careta de gozo ou de dor no escuro, e o shakesperiano “esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica”, mas os incorpora transformando-os em outra coisa, uma coisa inquietante, quase alheia e aterradora:
“ermas de melodia e conceito
elas se refugiaram na noite, as palavras.
Ainda úmidas e impregnadas de sono,
rolam num rio difícil e se transformam em desprezo”.
É nesse poema que aparecem os seguintes versos, sempre muito citados:
“Penetra surdamente no reino das palavras.
Lá estão os poemas que esperam ser escritos.
Estão paralisados, mas não há desespero (…)
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.
Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.
Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam (…)
Nao force o poema a desprender-se do limbo.
Não colhas no chão o poema que se perdeu.
Não adules o poema. Aceita-o
como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada
no espaço.
Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma
tem mil faces secretas sob a face neutra
e te pergunta, sem interesse pela resposta,
pobre ou terrível, que lhe deres:
Trouxeste a chave?”
5) Ainda A Rosa do Povo (09.01.10)
“Eis meu pobre elefante
pronto para sair
à procura de amigos
num mundo enfastiado
que já não crê nos bichos
e duvida das coisas.” (“O elefante”, de A Rosa do Povo)
Quem conferir os comentários anteriores , perceberá que de cada um dos livros que compõem o primeiro dos três volumes da NOVA REUNIÃO da poesia de Drummond pela Bestbolso eu destaquei um conjunto de “poemas paradigmáticos”, cujos versãos são famosos e amiúde citados, quase proverbiais (evidentemente,uns mais, outros menos. Em A Rosa do Povo (1945), eu já destaquei quatro dos dezesseis “paradigmáticos”, justamente os dois primeiros da coletânea (“Consideração do Poema” e “Procura da Poesia”) e os dois últimos (“Mário de Andrade desce aos infernos” e “Carta ao homem do povo Charlie Chaplin”).
Célebre, também, é “A flor e a náusea”, que talvez sofra daquele “excesso de ênfase” que é muito da época em que os poemas dessa fase foram escritos, e que fazem com que o peso do tempo seja muito forte sobre eles, tornando-os datados em parte, embora sejam um documento importantíssimo sobre certa mentalidade que percorreu os meados do século XX, onde o “homem existencialista” se debatia entre as “situações”, os compromissos da contingência, além da polarização política:
“Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde
e lentamente passo a mão nessa forma insegura.
Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se.
Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico.
É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio.”
Mais problemático ainda é o irregular “Nosso tempo” (“Este é tempo de partido./ tempo de homens partidos”). É muito discursivo, porém tem ainda um apelo inegável:
“Calo-me, espero, decifro.
As coisas talvez melhorem.
São tão fortes as coisas!
Mas eu não sou as coisas e me revolto.
Tenho palavras em mim buscando canal,
são roucas e duras,
irritadas, enérgicas,
comprimidas há tanto tempo,
perderam o sentido, apenas querem explodir” (…)
(…) dentro do pranto minha face trocista,
meu olho que ri e despreza,
minha repugnância total por vosso lirismo deteriorado
que polui a essência mesma dos diamantes.”
Acho extremamente discutível o final do poema:
“O poeta
declina de toda responsabilidade
na marcha do mundo capitalista
e com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas
promete ajudar
a destruí-lo
como uma pedreira, uma floresta,
um verme.”
Implico com os dois últimos versos, gosto dos restantes, combativos. Está certo que há uma coerência nas três imagens, cada uma evocativa de um reino da natureza (o mineral, no caso da pedreira; o vegetal, no caso da floresta; o animal e biológico, no caso do verme). Comparar o mundo capitalista com uma pedreira, que se vai corroendo e escavando por dentro, até aí tudo bem, embora mesmo aí perpasse a sombra de uma depredação ecológica; mas uma floresta???, acho o símile particularmente infeliz; e mesmo o verme, apesar da conotação moral que damos à palavra, me parece algo muito insignificante para uma luta grandiosa, como a que Marx descreveu e prescreveu. É o caso de dizer que o poeta deixou-se levar para a facilidade, pelo menos neste caso.
Em compensação, uma das obras-primas supremas é o próprio epítome da exatidão e do uso preciso das imagens para chegar à máxima expressão, sem banalidades ou soluções fáceis e preguiçosas. Estou falando de “Áporo”, um poema-fetiche para os estudiosos de Drummond, um soneto fascinante, ilustrando o título com sua situação paradoxal:
“Um inseto cava
cava sem alarem
perfurando a terra
sem achar escape.
Que fazer, exausto,
em país bloqueado
enlace de noite
raiz e minério?
Eis que o labirinto
(oh razão, mistério)
presto se desata:
em verde, sozinha,
antieuclidiana,
uma orquídea forma-se.”
Ainda dentro da imagística que justifica o título do poema, temos “Anúncio da Rosa”, a Rosa da qual uma só pétala “resume auroras e pontilhismos”:
“Autor da rosa, não me revelo, sou eu, quem sou?
Deus me ajudara, mas ele é neutro, e mesmo duvido
quem em outro mundo alguém se curve, filtre a paisagem,
pense uma rosa na pura ausência, no amplo vazio (…)
(…) Já não vejo amadores de rosa.
O fim do parnasiano, começo da era difícil, a burguesia apodrece.
Aproveitem. A última
rosa desfolha-se.”
Temos também um dos poemas essenciais de Drummond, “Resíduo” (percebam as modulações do mantra repetitivo):
“De tudo ficou um pouco.
Do meu medo. Do teu asco.
Dos gritos gagos. Da rosa
ficou um pouco.
Ficou um pouco de luz
captada no chapéu.
Nos olhos do rufião
de ternura ficou um pouco
(muito pouco).
Pouco ficou deste pó
de que teu branco sapato
se cobriu. Ficaram poucas
roupas, poucos véus rotos
pouco, pouco, muito pouco.
Mas de tudo ficou um pouco (…)
Pois de tudo fica um pouco.
Fica um pouco de teu queixo
no queixo de tua filha.
Do teu áspero silêncio
um pouco ficou, um pouco (…)
E de tudo fica um pouco.
Oh abre os vidros de loção
e abafa
o insuportável mau cheiro da memória.
Mas de tudo, terrível, fica um pouco,
e sob as ondas ritmadas
e sob as nuvens e os ventos
e sob as pontes e os túneis
e sob as labaradas e sob o sarcasmo
e sob a gosma e sob o vômito
e sob o soluço, o cárcere, o esquecido
e sob o espetáculo e sob a morte de escarlate
e sob as bibliotecas, os asilos, as igrejas triunfantes
e sob ti mesmo e sob teus pés já duros
e sob os gonzos da família e da classe,
fica sempre um pouco de tudo.
Às vezes um botão. Às vezes um rato.”
Uma modalidade em que Drummond é um mestre é o poema narrativo e talvez sua obra-prima (que ganhou uma versão cinematográfica) seja “Caso do Vestido”, uma espécie de parábola de traição, aviltamento e perdão sob a ótica patriarcal, duma expressividade e de um dinamismo ritmico (são estrofes de dois versos) que, leitura após leitura, sempre impressionam (não dá para citar nada do poema, porque teria de transcrevê-lo todo, e é longo). Em contrapartida, ele também não faz feio no poema alegórico, basta dizer que o poema que vem depois do “Caso do Vestido” é o meu favorito em A rosa do povo: “O elefante”, que eu considero mais comovente, emocionante e humanista (e muito melhor realizado artisticamente) do que “Carta ao homem do povo Charlie Chaplin”:
“E já tarde da noite
volta meu elefante,
mas volta fatigado,
as patas vacilantes
se desmancham no pó.
Ele não encontrou
o de que carecia,
o de que carecemos,
eu e meu elefante,
em que amo disfarçar-me.”
Um exemplo forte do “visgo de Itabira” é “Retrato de família”:
“Esses estranhos assentados,
meus parentes? Não acredito (…)
Ficaram traços da família
perdidos no jeito dos corpos.
Bastante para sugerir
que um corpo é cheio de surpresas.
A moldura deste retrato
em vão prende suas personagens.
Estã ali voluntariamente,
saberiam –se preciso– voar.
Poderiam sutilizar-se
no claro-escuro do salão,
ir morar no fundo dos móveis
ou no bolso de velhos coletes.
A casa tem muitas gavetas
e papéis, escadas compridas.
Quem sabe a malícia das coisas,
quando a matéria se aborrece? (…)
Já não distingo os que se foram
dos que restaram Percebo apenas
a estranha idéia de família
viajando através da carne”. Serei rebarbativo, e chamarei a atenção para o óbvio: como são lindos estes dois últimos versos!
Enquanto a família viaja na carne (o corpo, cheio de surpresas, como é), “As lições da infância/ desaprendidas na idade madura”, noutro célebre poema de A rosa do povo: “Idade Madura” (quando publicou o livro, Drummond estava com 43 anos):
“Antes de mim outros poetas,
depois de mim outros e outros
estão cantando a morte e a prisão.
Moças fatigadas se entregam, soldados se matam
no centro da cidade vencida (…)
Ninguém me fará calar, gritarei sempre
que se abafe um praze (…)
transmitirei recados que não se ousa dar nem receber,
serei, no circo, o palhaço,
serei médico, faca de pão, remédio, toalha,
serei bonde, barco, loja de calçados, igrejas , enxovia,
serei as coisas mais ordinárias e humanas, e também as excepcionais,
tudo depende da hora
e de uma certa inclinação feérica,
viva em mil qual um inseto.
Idade Madura em olhos, receitas e pés, ela me invade
com sua maré de ciências afinal superadas…”
A inclinação feérica que vive no poeta, qual um inseto, não impede que na abertura de “Versos à boca da noite”, ele afirme: “Sinto que o tempo sobre mim abate/ sua mão pesada. Rugas, dentes, calva…/ Uma aceitação maior de tudo,/ e o medo de novas descobertas”, uma experiência “comprada em sal, em rugas e cabelos”:
“Há muito suspeitei o velho em mim.
Ainda criança, já me atormentava.
Hoje estou só. Nenhum menino salta
de minha vida, para restaurá-la.”
Possivelmente, o poema participante e solidário (ainda que solitário, naquela equação camusiana) mais famoso do livro seja “Carta a Stalingrado”,a elegia à resistência russa à invasão nazista:
“A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais.
Os telegramas de Moscou repetem Homero.
Mas Homero é velho. Os telegramas cantam um mundo novo
que nós, na escuridão, ignorávamos.
Fomos encontrá-lo em ti, cidade destruída,
na paz de tuas ruas mortas mas não conformadas,
no teu arquejo de vida mais forte que o estouro das bombas,
na tura fria vontade de resistir.”
E, para encerrar o elenco dos poemas paradigmáticos, “Os últimos dias”, que impressiona pela sua mistura muito bem dosada de ritmo, começando com estrofes e versos curtos e se espraiando para o verso livre, numa respiração meio Walt Whitman, que aparece em outros exemplos do livro, mas que aqui foi muito bem realizada:
“Que a terra há de comer.
Mas não coma já (…)
E cada instante é diferente, e cada
homem é diferente, e somos todos iguais.
No mesmo ventre o escuro inicial, na mesma terra
o silêncio global, mas não seja logo (…)
E que a hora esperada não seja vil, manchada de medo,
submissão ou cálculo. Bem sei, um elemento de dor
rói sua base. Será rígida, sinistra, deserta,
mas não a quero negando as outras horas nem as palavras
ditas antes com voz firme,os pensamentos
maduramente pensados, os atos
que atrás de si deixaram situações.
Que o riso sem boca não a aterrorize,
e a sombra da cama calcária não a encha e súplicas,
dedos torcidos, lívido
suor de remorso.
E a matéria se veja acabar: adeus, composição
que um dia se chamou Carlos Drummond de Andrade.
Adeus, minha presença, meu olhar e minhas veias grossas,
meus sulcos no travesseiro, minha sombra no muro,
sinal meu no rsto, olhos míopes, objetos de uso pessoal, ideia de justiça, revolta e sono, adeus,
vida aos outros legada.”
6) Após uma pequena pausa, mais A Rosa do Povo (15.01.10)
“Hora de delicadeza,
gasalho, sombra, silêncio.
Haverá disso no mundo?” (“Anoitecer”)
Fiz uma pequena pausa, para ler outras coisas, após A Rosa do Povo, mas estou de volta a Drummond. No entanto, me dou conta de que A Rosa… é um livro tão rico e multifacetado que não posso me limitar apenas aos poemas paradigmáticos. Peço, portanto, a paciência dos meus leitores, para comentar mais alguns poemas. É o caso, por exemplo, de “Carrego Comigo”:
“Ai, fardo sutil
que antes me carregas
do que és carregado,
para onde me levas?
Por que não me dizes
a palavra dura
oculta em teu seio,
carga intolerável? (…)
Se agora te abrisses
e te revelasses
mesmo em forma de erro,
que alívio seria (…)
Perder-te seria
perder-me a mim próprio.
Sou um homem livre
mas levo uma coisa…”
Esse fardo pode ser a própria poesia, ou mesmo a liberdade, no sentido sartreano. E a visão quase fisiológica e, por isso mesmo, quase nauseante, da existência, em “Passagem do Ano”:
“Recebe com simplicidade este presente do acaso.
Mereceste viver mais um ano.
Desejarias viver sempre e esgotar a borra dos séculos (…)
A boca está comendo vida.
A boca está entupida de vida.
A vida escorre da boca,
lambuza as mãos, a calçada.
A vida é gorda, oleosa, mortal, sub-reptícia.”
Gosto muito de “Uma hora e mais outra”:
“Há uma hora triste
que tu não conheces.
Não é a da tarde
quando se diria
baixar meio grama
na dura balança;
não é a da noite
em que já sem luz
a cabeça cobres
com o frio lençol
antecipando outro
mais gelado pano;
e também não é a
do nascer do sol
enquanto enfastiado
assistes ao dia
perseverar no câncer (…)
nem a pobre hora
da evacuação:
um pouco de ti
desce pelos canos.
Oh! adulterado,
assim decomposto,
tanto te repugna,
recusas olhá-lo:
é pior de ti?”
Não tem como não citar pelo menos uma passagem, uma estrofe, de vários, vários poemas. É o caso desta,de “Nos áureos tempos”: “(…)ei-nos interditos/ enquanto prosperam/ os jardins da gripe,/ os bondes do tédio,/ as lojas do pranto”; ou de “Rola Mundo”: “Vi o coração de moça/ esquecido numa jaula./ Excrementos de leão,/ apenas. E o circo distante.” Ou esse famoso trecho de “Equívoco”: “Sou apenas um peixe, mas que fuma e que ri,/ e que ri e detesta.” Todos mostrando um “Ritmo de poeta mais forte” se “inoculando” “nesta mão” (como lemos em “Edifício São Borba”):
“Até hoje perplexo
ante o que murchou
e não eram pétalas (…)
Tudo foi breve
e definitivo.
Eis está gravado
não no ar, em mim,
que por minha vez
escrevo, dissipo.” (“Ontem”)
Em “Episódio” aparece um boi que ainda não incorporou o tempo no significante, mas que já o prenuncia no significado:
“Manhã cedo passa
à minha porta um boi.
De onde vem ele
se não há fazendas?
Vem cheirando o tempo
entre noite e rosa.
Para à minha porta
sua lenta máquina.
Alheio à polícia
anterior ao tráfego
ó boi, me conquistas
para outro, teu reino.
Seguro teus chifres:
eis-me transportado
sonho e compromisso
ao País profundo.”
Poema narrativo, e admirável, é “Morte do leiteiro”. O leiteiro assassinado por um proprietário muito zeloso dos seus bens, “estatelado, ao relento,/ perdeu a pressa que tinha”:
“Da garrafa estilhaçada,
no ladrilho já sereno
escorre uma coisa espessa
que é leite, sangue… não sei.
Por entre objetos confusos,
mal redimidos da noite,
duas cores se procuram,
suavemente se tocam,
amorosamente se enlaçam,
formando um terceiro tom
a que chamamos aurora.”
Acho “Caso do Vestido” e “Morte do Leiteiro” mais bem solucionados do que o apólogo “Noite na Repartição”, o qual, entretanto, deve ter seus fãs, assim como o (para mim) indefensável e piegas “Consolo na Praia”, uma espécie de José escrito com o tom daqueles poetas do início do século que ainda guardavam resquícios do romantismo e de um singelo “tom popular” (Afonso Schmidt, Vicente de Carvalho, etc). Em compensação, “O mito”, principalmente ao construir uma Musa burguesa, uma Fulana (“essa de burguês sorriso/ e tão burro esplendor”), e o irônico “Morte no avião” trazem a marca da drummondiana molecagem de Alguma Poesia, acrescida do rictus sardônico na boca da maturidade:
“a morte engana,
como um jogador de futebol a morte engana,
como os caixeiros escolhe
meticulosa, entre doenças e desastres.”
Caso também de “Notícias”:
“a casa é pequena
para um homem e tantas notícias (…)
De ti para mim, apelos,
de mim para ti, silêncio (…)
Todo homem sozinho devia fazer uma canoa
e remar para onde os telegramas estão chamando”.
A onipresença itabirana, tantas vezes ressaltada:
“Uma rua começa em Itabira, que vai dar no meu coração (…)
Uma rua começa em Itabira, que vai dar
[ em qualquer ponto da terra (…)
Sou apenas uma rua
na cidadezinha de Minas…”
Extremamente bonito é “América”. Afinal, de Whitman a Neruda, era um tema que os poetas tinham de enfrentar, cada um com sua modulação:
“Portanto, é possível distribuir minha solidão,
[torná-la meio de conhecimento.
Portanto, solidão é palavra de amor.
Não é mais um crime, um vício, o desencanto das coisas.
Ela fixa no tempo a memória
Que o pressentimento ou a ânsia
De outros homens que a pé, a cavalo,
[de avião ou barco, percorreram
[teus caminhos, América.”
O “namoro” infeliz de Drummond com o comunismo subjacente em versos como os seguintes, de “Mas viveremos”:
“Já não distinguirei na voz da tarde
(trabalhadores, uni-vos) a menagem
que ensinava a esperar, a combater,
a calar, desprezar e ter amor (…)
Hoje quedamos sós. Em toda parte,
somos muitos e sós. Eu, como os outros.
Já não sei vossos nomes nem nos olho
na boca, onde as palavras se calam.”
O motivo comparece em “Com o russo em Berlim”, ao falar da protéica cidade do fascismo e da opressão “oculta em mil cidades”:
“Essa cidade oculta em mil cidades,
trabalhadores do mundo, reuni-vos
para esmagá-la, vós que penetrais
[ com o russo em Berlim.”
Outro poema marcante e belo é aquele do piano velho a obsedar e oprimir com o peso da sua presença toda uma família (“Onde há pouco falávamos”). Já tem esse verso que parece fugido do mundo de Clarice Lispector: “Nossa vontade é amor, o piano cabe em nosso amor”:
“(…) a matéria sarcástica, irredutível (…)
Uma família, como explicar? Pessoas, animais,
objetos, modos de dobrar o linho, gosto
de usar este raio de sol e não aquele, certo copo e não outro,
a coleção de retratos, também alguns livros,
certos costumes, jeito de olhar, feitio de cabeça,
antipatias e inclinações infalíveis: uma família,
bem sei, mas e esse piano?”
E possivelmente o poema mais belo dessa minha pequena seleção de hoje é “Indicações”, grande momento drummondiano:
“Talvez certo olhar, mais sério, não ardente,
que pousas nas coisas, e elas compreendem (…)
(…) Minas que espreita,
e espera, longamente espera tua volta sem som (…)
A família é pois uma arrumação de móveis, soma
de linhas, volumes, superfícies. E são portas,
chaves, pratos, camas, embrulhos esquecidos.
Também um corredor, e o espaço
entre o armário e a parede
onde se deposita certa porção de silêncio, traças e poeira
que de longe em longe se remove… e insiste (…)
Como saber? A princípio parece deserto,
como se nada ficasse, e um rio corresse
por tua casa, tudo absorvendo (…)
As coisas caem, caem, caem,
e o chão está limpo, é liso.”
Noutra vertente, o poema-diálogo (provocação?) da obra drummondiana com a obra do seu maior rival (João Cabral de Melo Neto, a quem ele é dedicado), “Campo, chinês e sono” (mais difícil seria imagina um poema drummondiano de João Cabral):
“O chinês deitado
no campo. O campo é azul,
roxo também. O campo,
o mundo e todas as coisas
têm ar de um chinês
deitado e que dorme.
Como saber se está sonhando?
O sono é perfeito. Formigas
crescem. estrelas latejam,
peixes são fluidos (…)
Há um chinês
dormindo no campo. Há um campo
cheio de sono e antigas confidências (…)
O campo está dormindo e forma um chinês
de suave rosto inclinado
no vão do tempo.”
Para encerrar, senão ficarei citando A Rosa do Povo indefinidamente, estes quatro versos de “Visão 1944” (que complementam outros quatro de “O medo”: “Assim nos criam burgueses./ Nosso caminho: traçado./ Por que morrer em conjunto?/ E se todos nós vivêssemos?”)
“Meus olhos são pequenos para ver
tudo que uma hora tem, quando madura,
tudo que cabe em ti, na tua palma,
ó povo! que no mundo te dispersas.”


















![s]ao bernardo](https://armonte.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/10/sao-bernardo.jpg?w=374&h=500)